Sorte ou azar no jogo da vida
Em Cabo Verde, houve um tempo em que a poesia levava à prisão. Jean-Yves Loude
Antes de viajarmos para a Ilha de S. Vicente, em Cabo Verde, é normal recebermos este conselho de amigos: “Não deixes de ir a Stº Antão”. Já em S. Vicente, qualquer cabo-verdiano com quem conversemos, faz-nos a pergunta fatal: “Já foi a Stª Antão?” Se alguém disser que não, atiram-nos com esta frase como um imperativo: “Tem de ir a Stº Antão!”
A sensação com que ficamos é que estas duas ilhas nunca cortaram o cordão umbilical que as mantém unidas sob a placa tectónica que as fez emergir. É como se fossem uma só ilha, e que o espelho de mar que as separa não passa de um mero acidente da natureza, que em nada altera a gemelidade que as juntou lado a lado no Atlântico.
No meu caso, acabadinha de chegar a S. Vicente, e por razões de calendário (era fim de semana), a minha anfitriã tinha já os bilhetes para, no dia seguinte, embarcarmos no primeiro ferry para Porto Novo. Assim, um feliz acaso fez com que a minha viagem se tenha iniciado por Stº Antão. Ficámos alojadas num hotel na Ponta do Sol, de rasgadas portas de vidro e vedação da varanda viradas para o mar e as marcas de uma língua de asfalto, testemunho da existência de uma pista de aeroporto que há muito deixou de funcionar.
O dia seguinte acordou molhado, uma bênção para uma população que tanto necessitava de chuva. Após o pequeno-almoço, e depois de decidirmos ficar no quarto, enviei uma comunicação para os meus. Após o habitual “está tudo bem”, acrescentei, “mas chove imenso.” Resposta imediata “Que azar!” Nada escrevi, fiquei-me pelo silêncio. O momento que vivia não cabia no ecrã frio de um telemóvel.
Sentada na varanda com “Cabo Verde” nas mãos, o livro de Jean-Yves Loude, cujas passagens haviam já sido assinaladas pela minha amiga, olhava o movimento das ondas, o rendado da espuma branca conforme o ritmo do volteio de cada uma, o barulho do embate contínuo contra a areia que as recebe já desfeitas na praia deserta. Esta sintonia entre chuva e calor, a que se juntou o cheiro a terra molhada da minha infância, levaram-me a uma travessia longa até ao mais fundo da minha memória africana.
Depois da terra ensopada, as bátegas que pesadamente continuavam a cair começaram a formar uma camada de água barrenta que se escoava segundo a inclinação do terreno. Aqui e ali passava alguém, uns ainda em bicos de pés em busca de algum espaço seco, outros, de calçado ensopado, tentavam apressadamente fugir da correnteza. O livro continuava nas minhas mãos, mas o meu olhar, furtivamente, alternava entre as frases e a realidade que tinha à minha frente. No colo, eu deixara de ter apenas um livro, mas uma ilha dentro do livro, em cujas folhas podia ouvir aquela sinfonia feita de mar e de chuva. Todos num só, como uma matrioska onde cabem tantas memórias quantas as misturas de sentimentos a engrossar as gotas de chuva que me salpicavam o rosto com a mesma alegria da idade da inocência.
O que para uns poderá ser azar, para outros será sorte, enquanto a vida continuar a ser um jogo, em que nem sempre sorte e azar terão de ser antónimos. Dependendo de quem e de quando se vivem, muitos destes momentos ganham conceitos polissémicos, libertos da nomenclatura lexical que a nossa gramática nos habituou a utilizar. Na minha, foi uma sorte poder ouvir os pingos da chuva e os fios de água a escorrer dos vidros da varanda, em tracejados que se juntavam ou afastavam, segundo as leis da física, que, naquele momento, deram lugar à poesia, sem mordaças nem açaimes que nos levem à prisão.
Aida Batista/MS



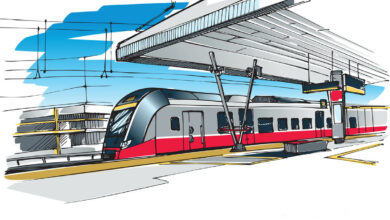





Redes Sociais - Comentários