
Doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho em 2005, Felisbela Lopes é Professora Associada com Agregação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Entre 2009 e 2014, foi aí Pró-Reitora para a área da Comunicação.
Leciona, desde 1994, disciplinas ligadas ao campo do Jornalismo. As suas áreas de investigação são a informação televisiva, com enfoque no serviço público de media; a comunicação e o jornalismo da saúde; e o jornalismo político, incidindo na cobertura mediática da Presidência da República Portuguesa. Foi investigadora principal de dois projetos de investigação financiados pela FCT: “A Doença em Notícia” e “Jornalismo televisivo e cidadania: os desafios da esfera pública na era digital”.
Nesta edição do Milénio Stadium, em que falamos do estado atual dos órgãos de comunicação social, pedimos a quem tanto tem trabalhado nesta área, como investigadora, para nos ajudar a avaliar o trabalho desenvolvido neste ano difícil, que acabou por relembrar a todos a importância que os media têm na formação da opinião pública. Felisbela Lopes considera mesmo que os órgãos de comunicação social tiveram um papel preponderante nos altos e baixos desta crise pandémica.
Milénio Stadium: Com a sua visão de investigadora e também como cidadã, como avalia o trabalho da comunicação social (não apenas em Portugal) neste ano de pandemia?
Felisbela Lopes: Podemos aqui estabelecer alguns marcos diferenciadores: nós tivemos uma onda pandémica que chega a Portugal em março, e nessa altura o país é considerado como um dos países bem-sucedidos em termos de contenção do vírus.

Em termos de cobertura mediática nós levámos aqui um choque de realidade e tivemos os média a transformarem a agenda num alinhamento monotemático, portanto, a partir de um determinado momento, particularmente a partir da declaração do estado de emergência (18 de março), os média tornaram os alinhamentos hegemónicos. Adotaram, nessa fase, uma frase de ordem (mais as televisões) que era – “Fique em casa”.
Num inquérito que fizemos à classe jornalística, 92,2% dos jornalistas disseram-nos que tiveram como objetivo ajudar as pessoas a mudar comportamentos no sentido da prevenção. É a primeira vez que os jornalistas, após o 25 de abril, reconhecem que tiveram aqui um propósito de mudança de orientação de comportamento – nunca tinha acontecido, mas é por algo benigno. Portanto, assume-se que houve uma orientação de comportamentos – e houve, porque os jornalistas nas peças de cariz informativo, também usavam muito o registo de apelo às pessoas para mudar comportamentos. Quando olhamos para este caso, bem-sucedido a nível mundial, temos que equacionar que os média, particularmente os média noticiosos, tiveram aqui um papel preponderante.
Os média em Portugal tiveram também uma mudança estrutural – chamar para fonte de informação especialistas, que subitamente começaram a ser o centro do espaço mediático – médicos, investigadores na área da saúde, ganharam aqui uma ampla visibilidade e houve aqui um saber sábio que é levado para o espaço jornalístico.
Ora, o estado de emergência foi até maio, a partir de maio o que é que aconteceu? Começámos a desconfinar e os média começaram também a desacelerar em termos de ondas noticiosas à volta da covid-19. Vem o verão, o vírus perdeu velocidade, nós continuámos desconfinados e os média continuaram a dispersar noticiabilidade. E o que é que acontece depois? Chegámos a novembro e entrámos em estado de emergência – surge a questão: confinamos ou não confinamos? Não confinamos, porque a economia está de joelhos. Então vieram medidas de restrição, com grande confusão, as pessoas não sabiam muito bem se haviam de sair ou não ao fim de semana, mas já tinham criado o hábito de conviver com a pandemia. O que significa que já não estavam tão preocupadas e os média também não estavam assim tão mobilizados… E aí os números começaram a acelerar.
Chegámos ao Natal e houve a preocupação e a pressão para passar o Natal em família, depois vem o Ano Novo, e, entretanto, chegamos a janeiro e tornamo-nos o pior país do mundo. De repente somos o pior país do mundo. Porquê? Porque nós, que fizemos tudo bem no início, a partir de maio começámos a fazer tudo mal – acabámos por nos habituar a isto, a fadiga também existiu e os próprios média também desaceleraram a própria mobilização de opinião publica para esta situação.
E há outra questão, em Portugal, mesmo os média de linha popular, resistiram a explorar a dor alheia – ou seja, perante um cenário de mortes, nós não tivemos muitas peças sobre a morte. Tudo o que era feito, foi sempre feito com cuidado extremo, tanto por órgãos de referência, quanto por órgãos de linha mais popular. Porque eu acho que os jornalistas (e no inquérito que nós fizemos eles diziam isso) são parte desta história, porque quando vão mediatizar um incêndio ou outra tragédia qualquer, o jornalista é mediador, mas neste caso é diferente, porque nos toca a todos – eles não estavam a tratar uma realidade desconhecida e a morte também era uma coisa que os afetava e que temiam. Eu penso que isso também contribuiu para todo este cuidado.
As realidades a nível mundial são muito diferentes, até porque o estado da pandemia é diferente, a evolução é também ela diferente conforme as geografias, mas nós somos ímpares porque conseguimos ser o caso de maior sucesso a nível mundial e de repente somos dos piores casos no mundo e somos um país pequeno.
MS: Depois da fase inicial em que se chegou a acusar os órgãos de comunicação social de espalharem o medo com o relato diário dos números da pandemia, agora há quem note que a partir do verão, concretamente as televisões, passaram a apresentar os seus programas com uma aparente normalidade. Acha que podem ter contribuído para transmitir uma mensagem subliminar de que o perigo já tinha passado, ajudando a que os números chegassem ao estado de catástrofe das últimas semanas?
FL: Eu sempre defendi que se a situação é grave, porque é que nós não temos que emitir o medo? Nós damos é sinais contraditórios com programas de entretenimento nos canais privados por onde passam muitas pessoas ao longo da tarde, que se sentam no mesmo sofá, para além disso quem conhece a televisão sabe que passam todos pelos mesmos locais de caracterização, com os riscos todos inerentes a isso, e as pessoas estão em casa e olham para os ecrãs de televisão e estão aqui a criar quadros de perceção social. Depois também os políticos, que agora em janeiro durante eleições presidenciais andaram em campanha – nós, mais uma vez, olhamos para os ecrãs e o que é que vemos? Políticos na rua e até se juntam uns com os outros, mas a mensagem que transmitimos é para que as pessoas fiquem em casa.
Esta onda pandémica, que em algumas partes do globo está ainda com uma violência bastante grande, coincide com o surgimento de vacinas – os órgãos de comunicação social, também nesta tentativa de diversificar ângulos e porque as vacinas são, efetivamente, uma novidade, começam a colocar no topo do alinhamento as vacinas, ou seja, dão também mais um sinal de que estamos quase a sair do túnel. E agora começamos a ver que não há vacinas para todos, que estão atrasadas, que o fornecimento das vacinas de facto não está assim tão adiantado, que os países que estão mais adiantados não tem nada a ver connosco, tipo Israel que já vacinou 50% da população, mas a Alemanha e a França vacinaram menos de 10%… Ou seja, os sinais continuam a ser contraditórios e depois as pessoas têm que se comportar. Estamos sempre a pedir às pessoas para adotarem comportamentos de prevenção e o que é facto é que nós não aprendemos nada. Estamos a conviver com a pandemia há um ano e parece que estamos a lidar com isto de uma forma pior.
• Leia no Vox Pop sobre a Comunicação Social, clique aqui.
MS: Olhando agora para o estado da comunicação social para lá da pandemia. A velocidade exigida hoje ao jornalismo, com as versões digitais de jornais, rádios e TV’s, tem contribuído, na sua perspetiva para uma diminuição da qualidade? Ou seja, mais quantidade, menos qualidade?
FL: Não, eu acho que em termos jornalísticos e de forma genérica (em Portugal) os média cresceram em qualidade. Inequivocamente. Há aqui algo muito importante que tem que ver com os especialistas – os jornalistas normalmente, quando tinham que escolher alguém (particularmente para a televisão), valorizavam muito a notoriedade pública das pessoas, ou seja, tinham que ser caras conhecidas, também para reter audiência. Ora com a pandemia, ao trazer os especialistas para o palco mediático, o que é verdade é que o jornalismo cresceu em qualidade.
As peças eram feitas com uma ou duas fontes, mas em tempos de pandemia, como começámos a normalizar a questão do contacto online, as pessoas habituaram-se muito a estar com um computador e de repente tornaram-se muito acessíveis. E por isso as peças começaram a ser feitas com muitas fontes, e com fontes especializadas -o jornalismo dá aí um salto de qualidade.
O que acontece é que as pessoas, subitamente, começaram a ter um acréscimo muito grande de consumo de informação, porque estão muito preocupadas, não só como vírus, mas com as consequências que o vírus traz para a sua vida. Mais do que ver novelas, ou ver entretenimento, as pessoas procuram muito informação. E ao procurar muito informação, os jornalistas também têm esta consciência e começam a alargar temas. E isso contribuiu para uma subida grande da qualidade do jornalismo.
MS: Ainda sobre a comunicação online, acha que o jornalismo tem sabido impor-se nas redes sociais? Um terreno tão fértil para a chamada contrainformação, teorias da conspiração e fake news…
FL: Não, não. O jornalismo em Portugal, agora com a pandemia, teve aqui um desenvolvimento maior – porque começaram a apostar mais no online. Mas o jornalismo em Portugal está muito atrasado no que diz respeito ao digital. E depois porque Portugal vive pendurado nas redes sociais, o jornalismo não tem aí muita força. Portanto, há aqui caudais de comunicação que são muito fortes em termos de redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp – e é difícil lutar contra essa corrente. O jornalismo funciona como uma espécie de contracorrente.
MS: Nos Estados Unidos da América é conhecida a assumida parcialidade de órgãos de comunicação de grande impacto nacional e até internacional. Numa perspetiva europeia esta é, teoricamente, uma forma de exercer a profissão de jornalista absolutamente contrária aos princípios básicos da ética e deontologia. Considera que, mais tarde ou mais cedo, a parcialidade que em muitos jornais e órgãos de comunicação europeus é ainda não assumida, vai ser cada vez mais uma realidade?
FL: Ainda não é aqui em Portugal. Mas nós temos alguns sinais que podemos apontar como sendo de algum risco. Nestas últimas presidenciais tivemos aqui uma força mais de extrema-direita que ganhou mais espaço (Chega), e o Chega é uma força partidária que de facto teve um maior número de votos e os votos não são divinais, são de gente que está cá, que consomem informação. O que significa que este tipo de partidos e esta resposta que teve, indica que que há aqui uma parte da população que, se calhar, consumia mais uma informação partidária, parcial, porque é assim que eles também se posicionam. Mas continua a ser muito residual, e nós continuamos a ter aqui uma tradição muito forte de jornalismo imparcial. Agora isto poderá fazer caminho. Os movimentos populistas lá fora, particularmente na Europa, começaram de forma envergonhada e, normalmente, Portugal costuma apanhar as tendências com algum atraso. Portanto, acho que há aqui sinais que nos impõem alguma cautela numa resposta negativa inequívoca – há sinais que nos apontam para que haja algumas brechas a curto prazo.
MS: Como avalia o trabalho desenvolvido pelas entidades reguladoras? Protegem efetivamente a profissão e os seus destinatários?
FL: Não, há aqui de facto, ultimamente, um vazio grande da entidade reguladora, nós não temos aqui uma entidade reguladora muito atuante relativamente à regulação dos conteúdos mediáticos de natureza jornalística.
MS: Quais são no seu entender os grandes desafios dos órgãos de comunicação para o futuro?
FL: São dois, essencialmente: Primeiro é o desafio da sobrevivência, porque nós temos aqui órgãos que se debatem com uma informação gratuita e uma informação de qualidade é cara. Temos empresas e grupos mediáticos em crise financeira, quer em Portugal, quer à escala global. Estamos perante uma pandemia que desencadeia uma crise financeira à escala global, que por sua vez diminui logo receitas publicitárias, portanto aquilo que se vislumbra é uma crise grande a curto prazo para os grupos mediáticos. Daí que o primeiro desafio seja o da sobrevivência e o da saúde financeira.
O segundo desafio é o da qualidade, é que esta pandemia trouxe para o centro novos temas, trouxe para o centro mediático a ciência, o campo da saúde, áreas que nos estruturam na vida todos os dias e que não eram mediatizadas pelo jornalismo, pelo menos no topo dos alinhamentos. De repente nós começámos a perceber que a vida não se faz de espuma, nem de ruído, e nós andámos muito tempo entretidos com isso e agora percebemos que havia coisas essenciais para as quais nós não estávamos minimamente despertos, e face a esta nova agenda, também houve aqui novos interlocutores, novas fontes de informação. Agora o futuro dir-nos-á se o jornalismo é capaz de se reconfigurar e de se reinventar com aquilo que aprendeu durante esta pandemia.
Catarina Balça/MS


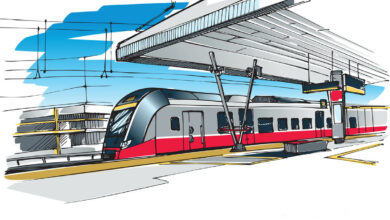


Redes Sociais - Comentários